Módulo 24
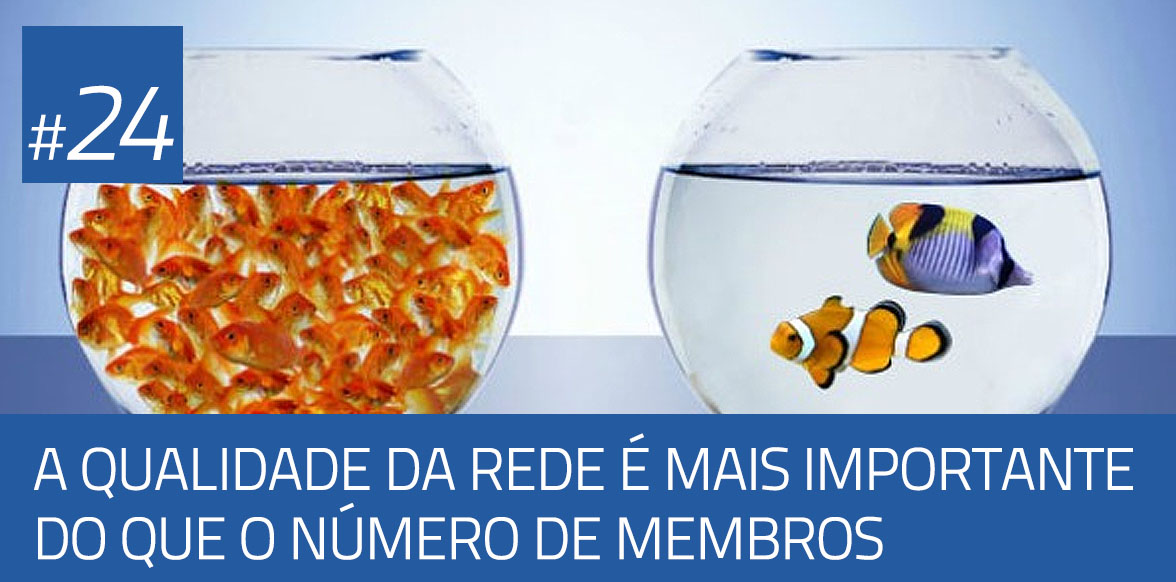
O que seria qualidade de uma rede? A qualidade de seus membros? Mas a rede é a coleção dos seus nodos ou a configuração da interação entre eles? Quem pensa em organizar uma rede, em geral quer escolher pessoas realmente interessadas no assunto e comprometidas com o propósito que imaginam que a organização deva ter. Pensa que deve haver dedicação e compromisso para a coisa "dar certo". Imagina então que isso pode ser conseguido se laços fortes forem estabelecidos.
Há aqui um desconhecimento da força dos laços fracos, que são os mais importantes para a emergência dos fenômenos interativos que caracterizam os mundos sociais altamente conectados.
O problema é que se a rede não for um ambiente favorável à emergência dos fenômenos interativos, ela não serve para nada. Neste caso, é melhor fazer mesmo uma organização regulada top down (como uma empresa piramidal) ou participativa (como um sindicato ou uma ONG).
Ora, a grande descoberta que acompanhou a geração dos Highly Connected Worlds foi que o comportamento das redes sociais não depende de conteúdos. Sua fenomenologia é interativa. E todas as formas de interação que foram descobertas pela nova ciência das redes revelaram a mesma coisa: nada a ver com conteúdos. Clustering, swarming, cloning, crunching – nenhuma dessas coisas tem a ver com conteúdo. Não têm a ver com ensinamento (replicação) e sim com aprendizagem (criação). Aprendizagem coletiva que reflete o metabolismo pelo qual os mundos sociais criam-se a si mesmos à medida que se desenvolvem.
Quando, a partir dessas descobertas, começamos a quebrar as cadeias, deixando as forças do aglomeramento livres para atuar, deixando o enxameamento agir, a imitação exercer o seu papel e os mundos se contraírem, os novos mundos altamente conectados começaram a vir à luz.
CLUSTERING
A primeira grande descoberta: tudo que interage clusteriza, independentemente do conteúdo, em função dos graus de distribuição e conectividade (ou interatividade) da rede social. Há muito já se pode mostrar teoricamente que quanto maior o grau de distribuição de uma rede social, mais provável será que duas pessoas que você conheça também se conheçam (essa é a raiz do fenômeno chamado clustering).
Em geral não se conhece todas as variáveis que estão presentes em cada processo particular, mas é observável que se formam clusters (aglomerados) em quaisquer redes, não apenas nas redes sociais. Insetos se aglomeram, doenças se aglomeram (e não apenas as contagiosas), empreendedores de um mesmo ramo de negócios tendem a se aglomerar (não é por acaso que encontramos lojas de tecidos, roupas, luminárias ou oficinas mecânicas concentradas em uma mesma rua ou quadra). E isso não depende, como ocorre em certas cidades planejadas (como Brasília) da localização forçada ou top down de setores (setor hospitalar, setor hoteleiro, setor automotivo etc.). É assim que, como mostrou Steven Johnson (2001), em Emergência: a vida integrada de formigas, cérebros, cidades e softwares, os vendedores de seda se clusterizam, há séculos, em determinada localidade de Florença. E voltam sempre para o mesmo lugar após as tão seguidas quanto inúteis tentativas de deslocá-los para outras regiões da cidade.
Os planejadores normativos – como construtores de pirâmides que são – não têm paciência para esperar a clusterização. Na verdade, como seu objetivo é construir organizações hierárquicas, eles não podem esperar a clusterização. A hierarquia exige desatalhamento, quer dizer, a supressão de atalhos entre clusters: só alguns caminhos podem ser válidos (e, por isso, só alguns são validados). Isso dificilmente ocorreria se a clusterização brotasse da dinâmica da rede. Essa é a razão pela qual os planejadores urbanos nunca construiriam uma Florença, tendo que se contentar em erigir suas capitais para algum deus hierárquico (como fez Amenófis IV para o deus Aton) ou arquitetar suas cidades-sede para o Estado, não para a sociedade (como aquela Brasília que foi inaugurada antes da convivência social dos brasilenses; depois estes últimos começaram a conformar a verdadeira Brasília modificando os estranhos caminhos traçados pelos planejadores). A diferença entre o zigurate de Uruk e o assentamento temporário do festival Burning Man revela quase tudo: poucos caminhos x múltiplos caminhos.
Ao articular uma organização em rede distribuída não é necessário pré-determinar quais serão os departamentos, aquelas caixinhas desenhadas nos organogramas. Estando claro, para os interagentes, qual é o propósito da iniciativa, basta deixar as forças do aglomeramento atuarem. Em pouco tempo (a depender da interatividade da rede), surgirão clusters agregando pessoas que se dedicarão às funções necessárias à realização daquele propósito: alguns se juntarão para cuidar da criação, outros para cuidar dos relacionamentos com os stakeholders, outros, ainda, da produção ou do delivery etc.
Até certos eventos planejados autonomamente por pessoas diferentes (que não se conhecem entre si) se aglomeram e isso é revelador de um metabolismo da rede, de uma dinâmica invisível que ocorre no espaço-tempo dos fluxos. Nada a ver com conteúdo. A partir do clustering outros fenômenos surpreendentes ocorrem em uma rede, como o swarming.
SWARMING
A segunda grande descoberta: tudo que interage pode enxamear. Swarming (ou swarm behavior) e suas variantes como herding e shoaling, não acontecem somente com insetos, formigas, abelhas, pássaros, quadrúpedes e peixes. Em termos genéricos esses movimentos coletivos (também chamados de flocking) ocorrem quando um grande número de entidades self-propelled interagem. Algum tipo de inteligência coletiva (swarm intelligence) está sempre envolvida nestes movimentos. Já se sabe que isso também ocorre com humanos, quando multidões se aglomeram (clustering) e “evoluem” sincronizadamente sem qualquer condução exercida por algum líder; ou quando muitas pessoas enxameiam e provocam grandes mobilizações sem convocação ou coordenação centralizada, a partir de estímulos que se propagam P2P, por contágio viral.
E não ocorre apenas como uma forma de conflito, como ficamos acostumados a pensar depois que Arquilla e Ronsfeld (2000) produziram para a Rand Corporation seu famoso paper “Swarming and the future of conflict”. Um exemplo conhecido dos efeitos surpreendentes do swarming – no caso, civil – foi a reação da sociedade espanhola aos atentados terroristas cometidos pela Al-Qaeda em 11 de Março de 2004. Escrevendo sobre isso, ainda preso as visões do swarming como netwar, David de Ugarte (2007), em O poder das redes, acerta porém quando diz:
“Como organizar, pois, ações em um mundo de redes distribuídas? Como se chega a um swarming civil? Em primeiro lugar, renunciando a organizar. Os movimentos surgem por auto-agregação espontânea, de tal forma que planificar o que se vai fazer, quem e quando o fará, não tem nenhum sentido, porque não saberemos o quê, até que o quem tenha atuado”.
O swarming (enxameamento) é uma forma de interação. Deixar o enxameamento agir significa ‘renunciar a organizar’, quer dizer, a disciplinar a interação.
O fenômeno acontece com mais rapidez em função direta dos graus de conectividade e de distribuição da rede. Em mundos altamente conectados tais movimentos tendem a irromper com mais frequência. E é por isso que eles surgem por emergência, não supervêm a partir de qualquer instância centralizada.
Assim, do que se trata é de deixar mesmo. As tentativas de provocar artificialmente swarmings, instrumentalizando o processo para derrotar um adversário, destruir um inimigo, disputar uma posição, vencer uma eleição ou vender mais produtos batendo a concorrência, em geral não têm dado certo. Todas elas acabam, contraditoriamente, fazendo aquilo que negam: tentando organizar a auto-organização.
E ainda bem que tais tentativas fracassam: do contrário viveríamos em mundos altamente centralizados por aqueles que possuíssem o segredo de como desencadear swarmings. De posse desse conhecimento (que logo seria trancado), um partido poderia eleger seus candidatos (e mantê-los no poder indefinidamente) ou uma empresa poderia reinar sozinha no seu ramo de negócio.
Nada a ver com conteúdo. Na sua intimidade, o processo de swarming pressupõe clustering e se propaga por meio de cloning.
CLONING
A terceira grande descoberta: a imitação também é uma das formas da interação e, desse ponto de vista, a imitação é uma clonagem. Poucos perceberam isso. Como pessoas – gholas sociais – todos somos clones, na medida em que somos culturalmente formados como réplicas variantes (embora únicas) de configurações das redes sociais onde estamos emaranhados.
O termo clone deriva da palavra grega κλώνος, (Klon, usada para designar "broto" ou "rebento", "tronco” ou “ramo") referindo-se ao processo pelo qual uma nova planta pode ser criada a partir de um galho. Mas é isso mesmo. A nova planta imita a velha. A vida imita a vida. A convivência imita a convivência. A pessoa imita o social.
Sem imitação não poderia haver ordem emergente nas sociedades humanas ou em qualquer coletivo de seres capazes de interagir. Sem imitação os cupins não conseguiriam construir seus cupinzeiros. Sem imitação, os pássaros não voariam em bando, configurando formas geométricas tão surpreendentes e fazendo aquelas evoluções fantásticas.
A imitação não é algo ruim, como começamos a pensar depois que surgiram os sistemas de trancamento do conhecimento (como, por exemplo, as leis de patentes e o direito autoral). A preocupação deslocou-se então da criação para a fraude, passando a ser um caso de polícia.
Mas não há aprendizagem sem imitação. Learn from your neighbours é a diretiva geral de auto-organização dos sistemas complexos e, portanto, de qualquer sistema capaz de aprender.
Quando imitamos, introduzimos variações. Nunca reproduzimos nada fielmente (isso seria impossível em qualquer mundo em que as condições são mutáveis e os imitadores são diferentes dos imitados). A propagação dessas variações se distribui de uma maneira estranha.
Você não imita uma-a-um ou um de cada vez. O que você imitou (e variou) vai ser imitado por outro (e ser também variado). Além disso, você imita vários ao mesmo tempo, combina e recombina modelos a ser imitados e essas recombinações também se propagam gerando novos padrões de adaptação emergentes.
Isso é o que chamamos aqui de cloning. Foi assim que nasceu a vida (o simbionte natural). É assim que está nascendo a convivência social “orgânica” (ou o simbionte social) nos Highly Connected Worlds.
Ao contrário do que se acreditou por tanto tempo, não há inovação sem imitação. E quanto mais imitação, mais inovação. Imitação não é propriamente repetição, reprodução assistida. Imitação é uma função dos emaranhados em que as coisas – inclusive os humanos – sempre estão.
Na verdade, nossos esforços educativos, ao querermos preparar as pessoas e orientá-las para que cumpram adequadamente uma função (em geral uma função que queremos que elas cumpram), são, em grande parte, tentativas de condicioná-las (ao que queremos que elas façam) e administrá-las (para que elas façam o que queremos do jeito que queremos). Se não estamos preocupados com comando-e-controle, tal esforço é quase sempre inútil. Bastaria deixar que elas aprendessem. Deixar-aprender é a solução interativista para a educação (que, como tal – como ‘a’ educação – é então abolida). E é também, sob certo ponto de vista, uma definição de democracia (no sentido “forte” do conceito).
Como naquelas experiências promovidas por Sugata Mitra (contadas por ele numa palestra do TED Global 2010: “The child-driven education”) com crianças de localidades pobres da Índia, que nunca haviam visto um computador e que aprenderam, elas mesmas, em grupo, não somente a usar a máquina e a rede, mas aprenderam a aprender em rede por meio da máquina, é preciso deixar as pessoas aprenderem na interação. Mitra não ensinava nada, simplesmente entregava computadores conectados às crianças e dizia: “ – Vejam aí o que vocês podem fazer, voltarei daqui a um mês”. Ao voltar verificava que elas haviam feito prodígios. Nessas experiências a aprendizagem fundamental era sempre a da interação (no grupo dos aprendentes). Mas isso vale para qualquer aprendizagem. A imitação não deve ser apenas tolerada senão estimulada (e se os chamados educadores soubessem disso incentivariam a cola nas suas provas ao invés de montar sistemas para vigiar e punir os transgressores: argh!).
Quando tentamos orientar as pessoas sobre o quê – e como, e quando, e onde – elas devem aprender, nós é que estamos, na verdade, tentando replicar, reproduzir borgs: queremos seres que repetem. Quando deixamos as pessoas imitarem umas as outras, não replicamos; pelo contrário, ensejamos a formação de gholas sociais. Como seres humanos – frutos de cloning – somos seres imitadores.
Nada a ver com conteúdo. Nos mundos altamente conectados o cloning tende a auto-organizar boa parte das coisas que nos esforçamos por organizar inventando complicados processos e métodos de gestão. Mesmo porque tudo isso vira lixo na medida em que os mundos começam a se contrair sob efeito de crunching.
CRUNCHING
A quarta grande descoberta: small is powerful. Essa talvez seja a mais surpreendente descoberta de todos os tempos. Em outras palavras, isso quer dizer que o social reinventa o poder. No lugar do poder de mandar nos outros, surge o poder de encorajá-los (e encorajar-se): empowerment!
Sim, é empowerfulness. Quando aumenta a interatividade é porque os graus de conectividade e distribuição da rede social aumentaram; ou, dizendo de outro modo, é porque os graus de separação diminuíram: o mundo social se contraiu (crunch). Steven Strogatz observou em 2008 que os graus de separação não estavam apenas diminuindo: eles estavam despencando (isso foi contado por Strogatz em seu depoimento no filme Connected: the Power of Six Degrees, da BBC). De uma perspectiva do fluxo, podemos afirmar que – sob o efeito desse amassamento (Small-World Phenomenon) – somos nós que estamos despencando... no abismo!
Nada a ver com conteúdo. Tudo que interage tende a se emaranhar mais e a se aproximar, diminuindo o tamanho social do mundo. Quanto menores os graus de separação do emaranhado em você vive como pessoa, mais empoderado por ele (por esse emaranhado) você será. Mais alternativas de futuro terá à sua disposição. Mais parcerias e simbioses poderá fazer para realizar qualquer coisa. Mais rico (de conexões) e mais poderoso (de empoderamento) você será, porque terá mais recursos (meios) e mais capacidade (potencialidade) de alterar disposições no espaço-tempo dos fluxos.
É o caso de dizer: bem, isso muda tudo.
Nos Highly Connected Worlds a contração (crunching) é acelerada. Em pouco tempo sua timeline fica tão caudalosa que você é arrastado pela correnteza.
Não adianta mais erigir muros para tentar se proteger da interação: como se sabe, a enxurrada, quando vem, leva tudo. Então você vai ter que aprender a viver em fluxo. Isso muda tudo porque muda a natureza do que chamávamos de normas e instituições, processos e rotinas, planos e agendas e, inclusive, propriedades (incluindo propriedades imobiliárias, como nossas casas – nossos refúgios contra as intempéries e nosso espaço privado, separado dos outros e protegido da interação com o outro-imprevisível). Uma vida em fluxo é uma vida nômade.
No passado temia-se que isso nos colocasse na dependência de dispositivos interativos móveis – e-readers e tablets – mochilas e naves. Quá! Tudo isso já é passado. Os dispositivos separados do corpo vão sendo substituídos por implantes conectores, as máquinas de ler livros e os computadores-comprimidos vão virando objetos tão jurássicos como aqueles velhos computadores-armários que rodavam fitas magnéticas e liam cartões perfurados. As mochilas vão ficando cada vez menores na medida em que não há muito para carregar (e carregar para onde?). As naves, entretanto, permanecem, mas são outra coisa.
Em um mundo contraído você precisa mesmo é da nuvem. Não de se conectar à alguma nuvem (criada por algum mainframe) para armazenar e acessar seus arquivos (quer dizer, o passado). Agora você é a nuvem. Agora você é a nave: como nas velhas catedrais góticas (pelo menos nas intenções dos pedreiros-livres que as construíram), você viaja sem sair do lugar (porque o lugar também passa a ser outra coisa). A nuvem é o emaranhado que viaja pelos interworlds junto com você. E esse emaranhado é o seu lugar. O seu lugar não é você (arrumando um jeito de ficar prevenido) contra o outro: o seu lugar é o outro.
Que tal?

