Módulo 25
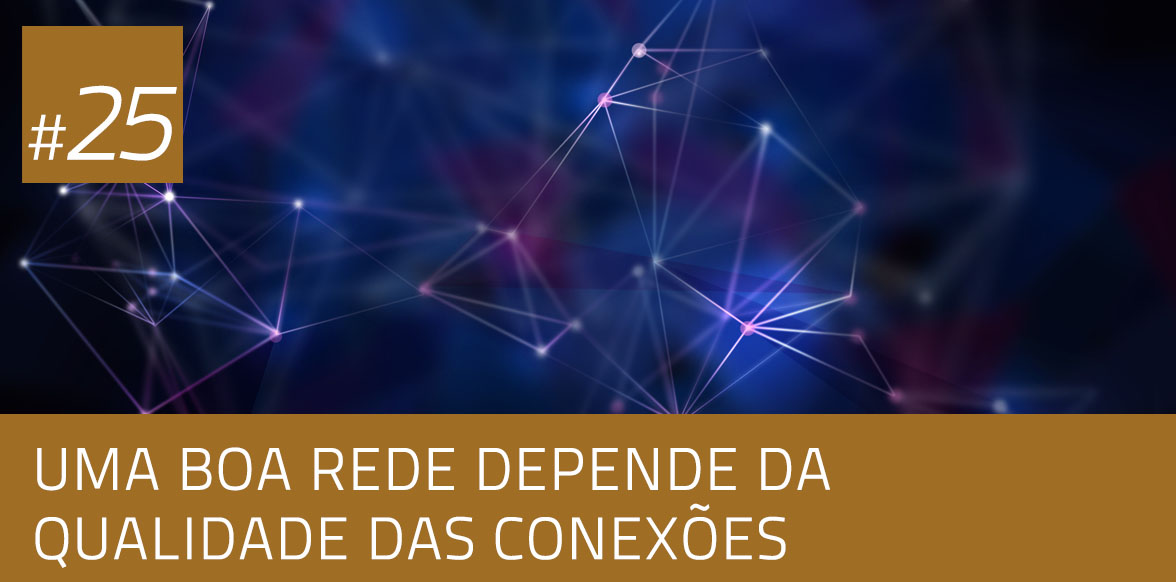
As conexões não têm propriamente qualidade, a não ser se falarmos da largura de banda (da velocidade e da estabilidade) da conexão à Internet. Como as redes sociais são sociais mesmo (como o nome está dizendo) e não se confundem com as tecnologias digitais ou com os meios físicos usados para viabilizar a interação entre pessoas, o que seria qualidade de uma conexão?
Diga aí.

