Módulo 11
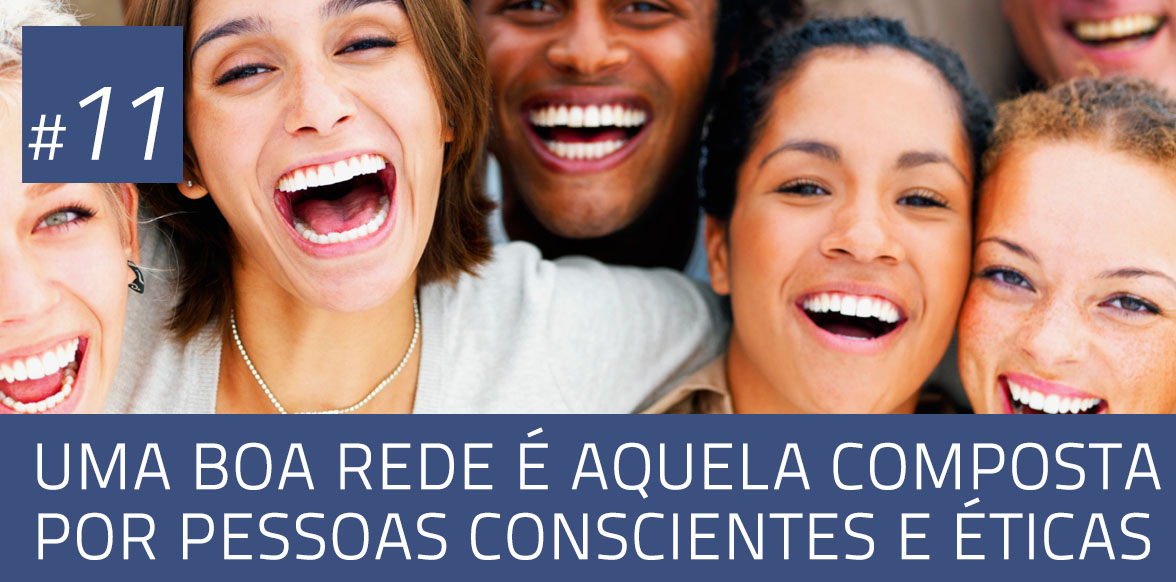
Uma das crenças mais nocivas que se espalharam sobre as redes sociais é a de que uma boa rede é composta por pessoas boas. A qualidade da rede dependeria, assim, da qualidade de seus nodos. A rede seria um somatório dos nodos. Mas o social (quer dizer, a rede social) é o coletivo dos indivíduos (com suas características intrínsecas) ou o que está entre eles?
Entretanto, todas as evidências apontam que os fenômenos que ocorrem em uma rede não dependem das características intrínsecas de seus nodos.
Quem quer entender redes deveria começar refletindo sobre a frase do físico Marc Buchanan (2007), em O átomo social:
“Diamantes não brilham por que os átomos que os constituem brilham, mas devido ao modo como estes átomos se agrupam em um determinado padrão. O mais importante é frequentemente o padrão e não as partes, e isto também acontece com as pessoas”.
A ideia de que a fenomenologia de uma rede é função das características de seus nodos (das suas ideias, consciência, conhecimentos, habilidades, valores ou preferências) ainda faz parte de uma herança cultural hierárquica difícil de ser questionada. Dizer que a fenomenologia de uma rede é função da sua topologia é um verdadeiro choque para essa cultura que encara as sociedades humanas como coleções de indivíduos e não como sistema de relações entre pessoas, como configurações de fluxos ou interações.
Sim, rede = interação. O comportamento coletivo não depende dos propósitos dos indivíduos conectados (ou de suas outras características, individualizáveis). Ele é função dos graus de distribuição e conectividade (ou interatividade) da rede.
Mas por que demoramos tanto para perceber isso? Talvez porque, enquanto olhávamos os nodos (as árvores), deixávamos de ver a rede (a floresta, ou melhor, não propriamente o conjunto das árvores, mas as relações que constituem o ecossistema (como os clones fúngicos subterrâneos, por exemplo) sem o qual as árvores – nem algumas poucas, nem muitas milhares – podem existir). Talvez porque fomos induzidos a fazer a busca errada: enquanto procurávamos um conteúdo não podíamos mesmo encontrar um padrão de interação. Talvez porque, influenciados pela máquina econômica construída pelo pensamento hobbesiano-darwiniano, enquanto tentávamos prever o comportamento coletivo a partir das preferências individuais, escapava-nos aquilo que exatamente faz do sistema algo mais do que a soma de suas partes: o social. Fixávamo-nos em objetos capturáveis, não em relações, não em fluxos. O rio no espaço-tempo dos fluxos permanecia, para nós, escondido.
Conjuntos de nodos são apenas conjuntos de nodos. Não são redes. A representação estática chamada grafo, disseminada pela SNA (Análise de Redes Sociais) não ajuda muito a compreensão da rede: pontos (vértices) ligados por traços (arestas) passam uma imagem abaixo de sofrível daquele emaranhado dinâmico de interações que constitui a essência do que chamamos de rede, sempre fluindo e alterando sua configuração. Ademais, os nodos não são propriamente pontos de partida nem de chegada de mensagens, como se fossem estações ligadas por estradas por onde algum objeto ou conteúdo vai transitar. Eles também são caminhos. Aliás, nas redes sociais, os nodos não existem como tais (como pessoas) sem os outros nodos a ele ligados, constituindo-se, portanto, cada um em relação aos demais, como caminhos de constituição disso que chamamos de ‘eu’ e de ‘outro’.
Assim, não é o conteúdo do que flui pelas suas conexões que pode determinar o comportamento de uma rede. É o fluxo geral que perpassa esse tecido ou campo, cujas singularidades chamamos de nodos, que consubstancia o que chamamos de rede. Esse fluxo geral não tem nada a ver com mensagens contidas em sinais emitidos ou recebidos: são padrões, modos-de-interagir. Se há uma mensagem (um conceito mais informacional do que comunicacional), esses padrões é que são a mensagem.
O conceito de consciência mais atrapalha do que ajuda a entender o comportamento coletivo.
O social passa ser o modo de ser humano nas redes com alta tramatura dos mundos interativos que estão emergindo. Em outras palavras, passamos a constituir um organismo humano “maior” do que nós. Passamos a compartilhar muitas vidas, com tudo o que isso compreende: memórias, sonhos, reflexões de multidões de pessoas, que ficam distribuídas por todo esse superorganismo humano (e não super-humano). Podemos, como nunca antes, ter acesso imediato a um conjunto enorme de informações e, muito mais do que isso, podemos gerar conhecimentos novos com uma velocidade espantosa e com uma inteligência tipicamente humana (não de máquinas, computadores ou alienígenas), porém assustadoramente “superior” a que experimentamos em todos os milênios pretéritos.
E tudo isso pode ocorrer sem a necessidade de termos consciência (individual) do que está se passando. Ao viver a vida da rede, apenas vivemos a convivência: não precisamos mais tentar capturá-la e introjetá-la, circunscrevê-la ou mandalizá-la para conferir-lhe a condição de totalidade, erigindo um grande poder interior de confirmação para nos completar da falta dos outros e nos orientar nos relacionamentos com eles. Tal necessidade havia enquanto podia haver a ilusão da existência do indivíduo separado de outros indivíduos; ou quando um (ainda) não era muitos. Toda consciência é consciência da separação, inclusive a consciência da unidade, da totalidade, ou da unidade na totalidade, é uma resposta à separação. No abismo em que estamos despencando ao entrar em mundos de alta interatividade, não há propriamente isso que chamávamos de consciência.
Como epígrafe de um dos capítulos de "Os filhos de Duna", o escritor de ficção Frank Herbert (1976) colocou na boca de Harq al-Ada, cronista do Jihad Butleriano (a guerra ludista contra as máquinas inteligentes):
"O pressuposto de que todo um sistema pode ser levado a funcionar melhor através da abordagem de seus elementos conscientes revela uma perigosa ignorância. Essa tem sido frequentemente a abordagem ignorante daqueles que chamam a si mesmos de cientistas e tecnólogos".
E aí?

